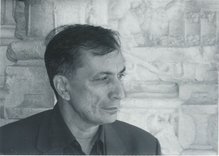O seguinte artigo foi publicado na minha coluna da Ilustrada, da Folha de São Paulo, sábado, 3 de novembro de 2007:
A ciência e Deus
AS MAIS TRADICIONAIS "provas" da existência de Deus -a "prova ontológica", de Anselmo de Canterbury, e as "cinco vias", de Tomás de Aquino- jamais se recuperaram da refutação que sofreram, por obra de Kant, no século 18. Assim, entende-se que, em seu livro "Deus, um Delírio", Richard Dawkins não lhes dedique muita atenção.
Por outro lado, sendo um biólogo, Dawkins se preocupa principalmente com as pretensões dos defensores do "intelligent design" (que, numa de suas típicas tiradas, ele chama de "criacionismo de smoking"). Estes alegam que a vida, os seres vivos, o ser humano etc. são complexos demais para terem sido produzidos pelo acaso.
Segundo eles, pensar o contrário seria como supor que um furacão que varresse um ferro-velho seria capaz de montar um Boeing 747. Como não dá para crer que algo tão improvável ocorra, eles inferem que tais coisas só podem ter sido produzidas por um designer ou projetista, isto é, por Deus.
A partir dessas considerações, explica-se que Dawkins trate a existência de Deus à maneira de uma hipótese científica como outra qualquer. Aqui não há como não lembrar a lapidar resposta do grande astrônomo Laplace a Napoleão, quando este lhe perguntou por que não mencionara Deus ao explicar o funcionamento do sistema solar: "Excelência, não precisei dessa hipótese".
Pois bem, Dawkins se propõe a considerar a hipótese científica de que "existe uma inteligência sobre-humana e sobrenatural que deliberadamente projetou ("designed') e criou o universo e tudo o que nele se encontra, inclusive a nós".
A que conclusões chega? Em primeiro lugar, ele concorda que realidades tão complexas não podem ter sido produzidas pelo mero acaso. Em segundo lugar, porém, ele nega que elas possam ser satisfatoriamente explicadas por um designer. Por quê? Porque, dado que o designer de alguma coisa não pode deixar de ser mais complexo do que essa coisa, seria ainda mais difícil explicar a existência dele do que a dela. Será preciso então apelar a um outro designer para explicar o primeiro, e depois a outro para explicar o segundo, e assim ao infinito: o que desqualifica essa explicação. Desse modo, revela-se inaceitável a hipótese da existência de Deus.
Segundo Dawkins, o que realmente dá conta da produção de coisas extremamente improváveis como o ser humano não é nem o mero acaso nem o design, mas o processo de seleção natural. Este consiste na produção de algo improvável por meio de inúmeras etapas. "Cada uma das etapas", diz ele, "é um tanto improvável, mas não irrealizável. Quando um grande número desses eventos um tanto improváveis se acumula numa série, o produto final da acumulação é de fato muito improvável, tão improvável que não poderia ter sido produzido pelo mero acaso".
É esse resultado final do processo de seleção natural que é usado pelos proponentes do "intelligent design" (incapazes de compreender o poder da acumulação gradativa de improbabilidades) como argumento para a sua modalidade de criacionismo.
Os filósofos ou teólogos que alegam, contra o procedimento de Dawkins, que ele não está levando em conta o fato de que Deus não tem causa imanente, uma vez que é transcendente, de que Deus é uma primeira causa incausada etc., não têm cabimento aqui, já que Dawkins não está senão examinando a hipótese fundamental do "intelligent design", que se pretende puramente científica, e rechaçando-a nos próprios termos em que ela se propõe.
E a verdade é que a argumentação de Dawkins que acabo de descrever só tem sentido se entendida desse modo, como uma espécie de redução ao absurdo da teoria do "intelligent design". Por quê? Porque o "intelligent design" jamais poderia realmente ser considerado como uma hipótese científica.
Quando Laplace diz que não precisa da hipótese de Deus, está, na verdade, explicitando a principal regra do jogo constitutivo da própria ciência: de toda ciência. Deus não vale como hipótese porque tal hipótese explicaria tudo e qualquer coisa: logo, não explicaria nada. Assim, ainda que, pessoalmente, um cientista acredite na existência de Deus, ele não pode, sem trair a sua ciência, aduzir Deus para "explicar" coisa alguma.
A ciência é exatamente a tentativa de explicar o mundo como se Deus não existisse. Não ter deixado isso suficientemente claro -talvez por não o ter suficientemente compreendido- é certamente um dos maiores erros cometidos pelo autor de "Deus, um Delírio".
Mostrando postagens com marcador Richard Dawkins. Mostrar todas as postagens
Mostrando postagens com marcador Richard Dawkins. Mostrar todas as postagens
4.11.07
21.10.07
Sobre "Deus, um delírio"
O seguinte artigo foi publicado sábado, 20 de outubro, na minha coluna da Ilustrada da Folha de São Paulo:
Sobre "Deus, um Delírio"
NA COLUNA passada, fiquei de comentar o livro de Richard Dawkins "Deus, um Delírio". Afirmei então que o considerava um livro desigual, mas que merecia ser lido. Trata-se de uma obra ambiciosa, pois pretende demonstrar, para um público culto, porém leigo, não apenas que a probabilidade de que Deus não exista é infinitamente maior do que a probabilidade de que exista, mas que o ateísmo é uma posição eticamente superior ao teísmo.
Segue-se que uma sociedade democrática composta de indivíduos que, em sua maioria, conseguissem dispensar a religião -ou, pelo menos, torná-la assunto puramente privado- teria grande probabilidade de ser melhor e mais feliz do que as sociedades em que isso não havia ocorrido.
Tal convicção explica por que "Deus um Delírio" não tem apenas um objetivo teórico, mas também -e sobretudo- prático. Não se trata, para o seu autor, meramente de interpretar, mas também de transformar o mundo. Daí o seu caráter militante.
Muito esquematicamente, pode-se dizer que o esforço de Dawkins se encaminha por três vertentes diferentes, porém interligadas: a do esclarecimento de determinados conceitos, a da crítica ao teísmo e a da defesa do ateísmo.
No que diz respeito ao primeiro ponto -ao qual, dadas as limitações espaciais, terei que me limitar, ao menos no presente artigo-, Dawkins faz algumas distinções como, por exemplo, entre deísmo, panteísmo e teísmo, entre as diferentes modalidades de agnosticismo etc. O sentido dessas distinções elementares não é meramente didático, mas polêmico.
Explico. Creio não ter sido o único adolescente que, ao manifestar certas dúvidas, ouvia dos adultos reprimendas como: "Quem é você para duvidar da existência de Deus, quando os maiores gênios da humanidade, como Einstein, acreditam nela?".
Pois bem, as distinções feitas por Dawkins se dirigem contra esse tipo de argumento. É que grande parte dos pensadores citados como crentes em Deus são, na verdade, deístas ou panteístas; e nem estes nem aqueles acreditam num Deus pessoal, tal qual o das religiões abraâmicas, que são o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Para a maior parte dos deístas, "Deus" é o nome do princípio e causa do universo, no qual, porém, uma vez criado, jamais interfere. Sendo assim, o Deus dos deístas não produz milagres nem se interessa pelos homens.
Pode haver algo mais distante do Deus do Velho ou do Novo Testamento? Sim: o Deus dos panteístas, que se identifica com o próprio universo, a natureza ou as leis da natureza. Tal é o Deus de Einstein, que, neste ponto, se identifica, segundo ele mesmo, com Spinoza.
A rigor, pode-se, portanto, dizer que o descobridor da teoria da relatividade se encontra muito mais próximo do ateísmo do que do Deus de Abraão. "Não creio num Deus pessoal", afirmou ele certa vez, "e jamais neguei isso: sempre o exprimi com clareza".
Como, então, forjou-se o mito da religiosidade de Einstein? Entre as razões para se pensar que ele acreditava em Deus está, sem dúvida, o seu uso metafórico -por puro charme- dessa palavra. Algumas das suas mais famosas declarações são "Deus não joga dados", que, como diz Dawkins, pode ser interpretada como "o acaso não se encontra no cerne das coisas", ou a pergunta retórica "Deus tinha escolha, ao criar o universo?", que se pode entender como "o universo poderia ter começado de outro modo?"
Porém, mais importante é que, como Dawkins observa, com razão, é comum entre os cientistas e racionalistas uma reação quase mística -mas que nada tem de sobrenatural- à natureza e ao universo. "Se há algo em mim que pode ser considerado religioso", disse Einstein, "é a admiração incontida pela estrutura do mundo, na medida em que a ciência é capaz de revelá-la".
O fato de que há, no fundo, uma incompatibilidade entre essa atitude e a religião é expresso pela perplexidade que o astrônomo Carl Sagan, citado por Dawkins, exprime ao se perguntar: "Como é possível que nenhuma grande religião tenha olhado para a ciência e concluído: "Isto é melhor do que pensávamos! O universo é muito maior do que nossos profetas haviam dito, mais grandioso, mais sutil, mais elegante'?".
Confesso sentir um espanto semelhante ao de Sagan. Ademais, parece-me que, para cada ser humano, o mais grandioso é ter a consciência de tal grandiosidade, de tal maravilha e de tal mistério.
Sobre "Deus, um Delírio"
NA COLUNA passada, fiquei de comentar o livro de Richard Dawkins "Deus, um Delírio". Afirmei então que o considerava um livro desigual, mas que merecia ser lido. Trata-se de uma obra ambiciosa, pois pretende demonstrar, para um público culto, porém leigo, não apenas que a probabilidade de que Deus não exista é infinitamente maior do que a probabilidade de que exista, mas que o ateísmo é uma posição eticamente superior ao teísmo.
Segue-se que uma sociedade democrática composta de indivíduos que, em sua maioria, conseguissem dispensar a religião -ou, pelo menos, torná-la assunto puramente privado- teria grande probabilidade de ser melhor e mais feliz do que as sociedades em que isso não havia ocorrido.
Tal convicção explica por que "Deus um Delírio" não tem apenas um objetivo teórico, mas também -e sobretudo- prático. Não se trata, para o seu autor, meramente de interpretar, mas também de transformar o mundo. Daí o seu caráter militante.
Muito esquematicamente, pode-se dizer que o esforço de Dawkins se encaminha por três vertentes diferentes, porém interligadas: a do esclarecimento de determinados conceitos, a da crítica ao teísmo e a da defesa do ateísmo.
No que diz respeito ao primeiro ponto -ao qual, dadas as limitações espaciais, terei que me limitar, ao menos no presente artigo-, Dawkins faz algumas distinções como, por exemplo, entre deísmo, panteísmo e teísmo, entre as diferentes modalidades de agnosticismo etc. O sentido dessas distinções elementares não é meramente didático, mas polêmico.
Explico. Creio não ter sido o único adolescente que, ao manifestar certas dúvidas, ouvia dos adultos reprimendas como: "Quem é você para duvidar da existência de Deus, quando os maiores gênios da humanidade, como Einstein, acreditam nela?".
Pois bem, as distinções feitas por Dawkins se dirigem contra esse tipo de argumento. É que grande parte dos pensadores citados como crentes em Deus são, na verdade, deístas ou panteístas; e nem estes nem aqueles acreditam num Deus pessoal, tal qual o das religiões abraâmicas, que são o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Para a maior parte dos deístas, "Deus" é o nome do princípio e causa do universo, no qual, porém, uma vez criado, jamais interfere. Sendo assim, o Deus dos deístas não produz milagres nem se interessa pelos homens.
Pode haver algo mais distante do Deus do Velho ou do Novo Testamento? Sim: o Deus dos panteístas, que se identifica com o próprio universo, a natureza ou as leis da natureza. Tal é o Deus de Einstein, que, neste ponto, se identifica, segundo ele mesmo, com Spinoza.
A rigor, pode-se, portanto, dizer que o descobridor da teoria da relatividade se encontra muito mais próximo do ateísmo do que do Deus de Abraão. "Não creio num Deus pessoal", afirmou ele certa vez, "e jamais neguei isso: sempre o exprimi com clareza".
Como, então, forjou-se o mito da religiosidade de Einstein? Entre as razões para se pensar que ele acreditava em Deus está, sem dúvida, o seu uso metafórico -por puro charme- dessa palavra. Algumas das suas mais famosas declarações são "Deus não joga dados", que, como diz Dawkins, pode ser interpretada como "o acaso não se encontra no cerne das coisas", ou a pergunta retórica "Deus tinha escolha, ao criar o universo?", que se pode entender como "o universo poderia ter começado de outro modo?"
Porém, mais importante é que, como Dawkins observa, com razão, é comum entre os cientistas e racionalistas uma reação quase mística -mas que nada tem de sobrenatural- à natureza e ao universo. "Se há algo em mim que pode ser considerado religioso", disse Einstein, "é a admiração incontida pela estrutura do mundo, na medida em que a ciência é capaz de revelá-la".
O fato de que há, no fundo, uma incompatibilidade entre essa atitude e a religião é expresso pela perplexidade que o astrônomo Carl Sagan, citado por Dawkins, exprime ao se perguntar: "Como é possível que nenhuma grande religião tenha olhado para a ciência e concluído: "Isto é melhor do que pensávamos! O universo é muito maior do que nossos profetas haviam dito, mais grandioso, mais sutil, mais elegante'?".
Confesso sentir um espanto semelhante ao de Sagan. Ademais, parece-me que, para cada ser humano, o mais grandioso é ter a consciência de tal grandiosidade, de tal maravilha e de tal mistério.
Labels:
Agnosticismo,
Ciência,
Deísmo,
Deus,
Einstein,
Panteísmo,
Religião,
Richard Dawkins,
Teísmo
7.10.07
A crítica e a religião
O seguinte artigo foi publicado na minha coluna da Ilustrada, da Folha de São Paulo, sábado, 6 de Outubro de 2007:
A crítica e a religião
RECENTEMENTE, FORAM publicados vários livros que contestam a religião e mesmo a crença na existência de Deus. Creio que o de Richard Dawkins ("Deus, um Delírio"; Cia. das Letras, 2007; 528 pág., R$ 54) é, até agora, o mais conhecido e discutido, pelo menos no Brasil. Confesso que, inicialmente, não me senti muito animado a lê-lo. É que, tendo conferido algumas recensões de "Deus, um Delírio", eu havia ficado com a impressão de que o forte desse livro era tentar dar uma explicação darwinista das religiões e da crença na existência de Deus.
Ora, embora eu tenha uma admiração imensa pela teoria científica da evolução das espécies, sempre considerei excessivamente grosseiras todas as tentativas que até hoje conheci de exportá-la para o campo da sociedade humana.
Entretanto, alguns excelentes artigos, dentre os quais um do próprio Dawkins e outro do Marcelo Coelho (ambos na Ilustrada de 25/08), acabaram por atiçar a minha curiosidade a tal ponto que, na semana passada, decidi ler "Deus, um Delírio". Resultado: cheguei à conclusão de que se trata, em suma, de um livro desigual, mas que certamente merece ser lido.
Deixarei para comentar o livro do Dawkins outro dia, pois hoje quero tocar em algumas questões incidentais. Há quem se surpreenda com o fato de que, aparentemente, foram editados mais livros anti-religiosos na primeira década do século 21 do que nas últimas cinco décadas do século 20. Só dos livros traduzidos para o português, lembro-me, além do de Dawkins, do de Michel Onfray ("Tratado de Ateologia"; Martins Fontes, 2006), do de Daniel Dennet ("Quebrando o Encanto"; Globo, 2006), e do de Christopher Hitchens ("Deus Não É Grande"; Ediouro, 2007).
A que se deve esse fenômeno editorial? Em grande parte, sem dúvida, à percepção do risco que correm os direitos humanos em toda parte do mundo – ou melhor, à percepção do risco que corre o próprio mundo –, tanto em conseqüência dos atentados terroristas perpetrados por extremistas religiosos muçulmanos quanto em conseqüência do aumento da influência dos extremistas religiosos cristãos sobre a política interna e externa norte-americana.
Mas a questão realmente interessante talvez seja outra: por que é que, ao contrário do que ocorreu nos séculos 18 e 19, é difícil lembrar algum livro desse tipo que se tenha destacado, no século 20, na Europa ou nos Estados Unidos? Houve, sem dúvida, inúmeros ateus e agnósticos entre os cientistas, filósofos, escritores e artistas da época, mas, com a exceção de Bertrand Russell, não me ocorre nenhum pensador importante que tenha escrito específica e explicitamente contra a religião.
Será talvez que se haja pensado, como Marx, que a crítica da religião já se tivesse completado? A melhor descrição que conheço do estado de espírito em que, no que toca a religião, a maior parte dos intelectuais se encontrava no final do século 20 é a que o filósofo norte-americano John Searle fez, no seu admirável livro "Mind, Language and Society", de 1998.
Para ele, o mundo moderno simplesmente se desmistificara. Um exemplo dessa desmistificação é, segundo ele, a história de são Miniato, em honra ao qual ergue-se a igreja de San Miniato, em Florença. São Miniato foi um mártir cristão. Tendo sido condenado à morte, ele sobreviveu ao ataque de leões na arena, mas acabou sendo decapitado. Levantou-se então, pôs a cabeça debaixo do braço, saiu da arena, atravessou o rio e saiu da cidade. Em seguida, subiu até o topo do morro ao sul do Arno, e lá se sentou. Nesse lugar foi construída a sua igreja.
Segundo Searle, hoje os guias da cidade têm até vergonha de contar essa história. "O que interessa", diz, "não é o fato de que a consideramos falsa, mas o fato de que não a levamos a sério nem mesmo como uma possibilidade".
"Hoje em dia", observava Searle, "até evocar a questão da existência de Deus é considerado de mau gosto. Os assuntos religiosos são como os que dizem respeito às preferências sexuais de cada qual: não devem ser discutidos em público, e mesmo as questões abstratas só são discutidas por chatos".
Searle escreveu o texto há menos de dez anos; no entanto, ele já parece pertencer a outra época. Em 2007, é evidente que, longe de se limitarem à esfera privada, algumas religiões alimentam o sonho teocrático de privatizar o espaço público e policiar o privado. Assim, é importante que se escrevam e discutam livros como o de Dawkins.
A crítica e a religião
RECENTEMENTE, FORAM publicados vários livros que contestam a religião e mesmo a crença na existência de Deus. Creio que o de Richard Dawkins ("Deus, um Delírio"; Cia. das Letras, 2007; 528 pág., R$ 54) é, até agora, o mais conhecido e discutido, pelo menos no Brasil. Confesso que, inicialmente, não me senti muito animado a lê-lo. É que, tendo conferido algumas recensões de "Deus, um Delírio", eu havia ficado com a impressão de que o forte desse livro era tentar dar uma explicação darwinista das religiões e da crença na existência de Deus.
Ora, embora eu tenha uma admiração imensa pela teoria científica da evolução das espécies, sempre considerei excessivamente grosseiras todas as tentativas que até hoje conheci de exportá-la para o campo da sociedade humana.
Entretanto, alguns excelentes artigos, dentre os quais um do próprio Dawkins e outro do Marcelo Coelho (ambos na Ilustrada de 25/08), acabaram por atiçar a minha curiosidade a tal ponto que, na semana passada, decidi ler "Deus, um Delírio". Resultado: cheguei à conclusão de que se trata, em suma, de um livro desigual, mas que certamente merece ser lido.
Deixarei para comentar o livro do Dawkins outro dia, pois hoje quero tocar em algumas questões incidentais. Há quem se surpreenda com o fato de que, aparentemente, foram editados mais livros anti-religiosos na primeira década do século 21 do que nas últimas cinco décadas do século 20. Só dos livros traduzidos para o português, lembro-me, além do de Dawkins, do de Michel Onfray ("Tratado de Ateologia"; Martins Fontes, 2006), do de Daniel Dennet ("Quebrando o Encanto"; Globo, 2006), e do de Christopher Hitchens ("Deus Não É Grande"; Ediouro, 2007).
A que se deve esse fenômeno editorial? Em grande parte, sem dúvida, à percepção do risco que correm os direitos humanos em toda parte do mundo – ou melhor, à percepção do risco que corre o próprio mundo –, tanto em conseqüência dos atentados terroristas perpetrados por extremistas religiosos muçulmanos quanto em conseqüência do aumento da influência dos extremistas religiosos cristãos sobre a política interna e externa norte-americana.
Mas a questão realmente interessante talvez seja outra: por que é que, ao contrário do que ocorreu nos séculos 18 e 19, é difícil lembrar algum livro desse tipo que se tenha destacado, no século 20, na Europa ou nos Estados Unidos? Houve, sem dúvida, inúmeros ateus e agnósticos entre os cientistas, filósofos, escritores e artistas da época, mas, com a exceção de Bertrand Russell, não me ocorre nenhum pensador importante que tenha escrito específica e explicitamente contra a religião.
Será talvez que se haja pensado, como Marx, que a crítica da religião já se tivesse completado? A melhor descrição que conheço do estado de espírito em que, no que toca a religião, a maior parte dos intelectuais se encontrava no final do século 20 é a que o filósofo norte-americano John Searle fez, no seu admirável livro "Mind, Language and Society", de 1998.
Para ele, o mundo moderno simplesmente se desmistificara. Um exemplo dessa desmistificação é, segundo ele, a história de são Miniato, em honra ao qual ergue-se a igreja de San Miniato, em Florença. São Miniato foi um mártir cristão. Tendo sido condenado à morte, ele sobreviveu ao ataque de leões na arena, mas acabou sendo decapitado. Levantou-se então, pôs a cabeça debaixo do braço, saiu da arena, atravessou o rio e saiu da cidade. Em seguida, subiu até o topo do morro ao sul do Arno, e lá se sentou. Nesse lugar foi construída a sua igreja.
Segundo Searle, hoje os guias da cidade têm até vergonha de contar essa história. "O que interessa", diz, "não é o fato de que a consideramos falsa, mas o fato de que não a levamos a sério nem mesmo como uma possibilidade".
"Hoje em dia", observava Searle, "até evocar a questão da existência de Deus é considerado de mau gosto. Os assuntos religiosos são como os que dizem respeito às preferências sexuais de cada qual: não devem ser discutidos em público, e mesmo as questões abstratas só são discutidas por chatos".
Searle escreveu o texto há menos de dez anos; no entanto, ele já parece pertencer a outra época. Em 2007, é evidente que, longe de se limitarem à esfera privada, algumas religiões alimentam o sonho teocrático de privatizar o espaço público e policiar o privado. Assim, é importante que se escrevam e discutam livros como o de Dawkins.
Labels:
Ateísmo,
Crítica,
Desmitificação,
Deus,
Evolução,
Filosofia,
Religião,
Richard Dawkins
Assinar:
Postagens (Atom)