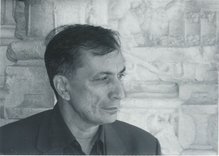O seguinte artigo foi publicado na minha coluna na "Ilustrada", da Folha de São Paulo, sábado, 6 de setembro:
A evolução e a natureza
NORMALMENTE SUPÕE-SE que o grande escândalo causado pela teoria da evolução seja devido à descoberta de que o ser humano descende de alguma espécie de macacos. De fato, isso foi sem dúvida um escândalo espetacular, uma enorme "ferida narcísica", como dizia Freud, infligida ao homem que aprendera ter sido criado à imagem de Deus.
Mas a teoria da evolução provocou também outros escândalos.
Quero falar de um que, embora menos espetacular, não é menos importante. Trata-se da relativização das espécies naturais. Desde Aristóteles, supunha-se que, criadas ou não, as espécies naturais fossem imutáveis.
A espécie à qual um ente qualquer pertencia era considerada a sua natureza. Ora, a natureza de uma coisa se confundia com seu fim, que era seu bem e sua perfeição próprias. Descobria-se essa natureza a partir do estudo dos espécimes que se encontravam, como dizia Aristóteles, num estado natural, em oposição aos espécimes "degenerados".
Como se pensava saber que um espécime se encontrava no estado natural? Pela observação da sua normalidade, isto é, do fato de que sua constituição física e seu comportamento não desviavam da constituição e do comportamento da maior parte dos indivíduos da mesma espécie. O anormal, ao contrário, era considerado degenerado. Desse modo, a normalidade se tornava normativa. O degenerado era aquele que se constituía ou se comportava contra a sua natureza: "contra naturam".
Pois bem, observando a natureza humana e a natureza da sociedade humana, Aristóteles concluiu que o natural era que a alma governasse o corpo, a inteligência, os apetites, o homem, os animais, o macho, a fêmea, e o senhor, o escravo. Para ele, essas relações eram naturais, e qualquer supressão ou inversão delas se daria contra a natureza. Do mesmo modo, o velho Platão, na sua última obra, pressupunha que a finalidade do erotismo, no indivíduo natural/normal, era a reprodução; logo, considerava contra a natureza toda relação homossexual. Esta última concepção se consolidou na Idade Média e é até hoje doutrina da Igreja Católica, para a qual toda relação homossexual infringe uma "lei natural".
Tal "lei" não passa, evidentemente, de um equívoco, pois as leis da natureza, que são descritivas, isto é, que dizem o que realmente acontece, não devem ser confundidas com as leis humanas, que são prescritivas, isto é, dizem o que deve (ou não deve) ser feito. A lei da gravidade, por exemplo, não diz que todos os corpos que têm massa devem se atrair de determinado modo e sim que se atraem desse modo. Se for descoberto que determinados corpos têm massa e, no entanto, não se atraem do modo previsto, não serão esses corpos que estarão errados, mas a lei da gravidade. Assim também, se uma "lei natural" diz que os indivíduos do mesmo sexo não sentem atração erótica uns pelos outros, basta abrir os olhos para ver que essa "lei" está errada, ou melhor, não é lei, não existe.
A teoria da evolução mostrou que a própria natureza não é algo fixo de uma vez por todas, mas se encontra em transformação. As espécies biológicas mesmas não têm "naturezas" eternas, mas estão em incessante evolução. Isso significa que não se pode considerar como natural exclusivamente a constituição física ou o comportamento "normal", isto é, tradicional. Uma espécie nova surge exatamente a partir das mutações – da "degeneração" – de uma espécie antiga. O indivíduo que, por ser portador de uma mutação está sujeito a ser considerado uma monstruosidade, talvez seja o limiar de uma nova espécie.
O ser humano é o produto de tais mutações, e sua maior novidade consiste em que não apenas a espécie humana, mas cada espécime humano é infinitamente capaz de mudar a si próprio, capaz de experimentar o que nunca antes se experimentou, capaz de criar o que nunca antes existiu. Toda invenção, toda arte, toda técnica, toda cultura pode ser considerada como o resultado da transformação – poderíamos dizer, da perversão – da natureza pelo homem. O primeiro antropóide a se erguer e usar as patas dianteiras como mãos – abrindo caminho para a aventura humana – estava pervertendo a função "natural" desses membros.
Não é lícito, portanto, invocar a "natureza" para justificar – ou para condenar – tais ou quais comportamentos, atos ou instituições. Quem o faz inevitavelmente incorre no provincianismo de "naturalizar" comportamentos, atos ou instituições contingentes e históricos, tais como a dominação do homem sobre a mulher, a escravidão ou a condenação da homossexualidade.
Mostrando postagens com marcador Evolução. Mostrar todas as postagens
Mostrando postagens com marcador Evolução. Mostrar todas as postagens
7.9.08
7.10.07
A crítica e a religião
O seguinte artigo foi publicado na minha coluna da Ilustrada, da Folha de São Paulo, sábado, 6 de Outubro de 2007:
A crítica e a religião
RECENTEMENTE, FORAM publicados vários livros que contestam a religião e mesmo a crença na existência de Deus. Creio que o de Richard Dawkins ("Deus, um Delírio"; Cia. das Letras, 2007; 528 pág., R$ 54) é, até agora, o mais conhecido e discutido, pelo menos no Brasil. Confesso que, inicialmente, não me senti muito animado a lê-lo. É que, tendo conferido algumas recensões de "Deus, um Delírio", eu havia ficado com a impressão de que o forte desse livro era tentar dar uma explicação darwinista das religiões e da crença na existência de Deus.
Ora, embora eu tenha uma admiração imensa pela teoria científica da evolução das espécies, sempre considerei excessivamente grosseiras todas as tentativas que até hoje conheci de exportá-la para o campo da sociedade humana.
Entretanto, alguns excelentes artigos, dentre os quais um do próprio Dawkins e outro do Marcelo Coelho (ambos na Ilustrada de 25/08), acabaram por atiçar a minha curiosidade a tal ponto que, na semana passada, decidi ler "Deus, um Delírio". Resultado: cheguei à conclusão de que se trata, em suma, de um livro desigual, mas que certamente merece ser lido.
Deixarei para comentar o livro do Dawkins outro dia, pois hoje quero tocar em algumas questões incidentais. Há quem se surpreenda com o fato de que, aparentemente, foram editados mais livros anti-religiosos na primeira década do século 21 do que nas últimas cinco décadas do século 20. Só dos livros traduzidos para o português, lembro-me, além do de Dawkins, do de Michel Onfray ("Tratado de Ateologia"; Martins Fontes, 2006), do de Daniel Dennet ("Quebrando o Encanto"; Globo, 2006), e do de Christopher Hitchens ("Deus Não É Grande"; Ediouro, 2007).
A que se deve esse fenômeno editorial? Em grande parte, sem dúvida, à percepção do risco que correm os direitos humanos em toda parte do mundo – ou melhor, à percepção do risco que corre o próprio mundo –, tanto em conseqüência dos atentados terroristas perpetrados por extremistas religiosos muçulmanos quanto em conseqüência do aumento da influência dos extremistas religiosos cristãos sobre a política interna e externa norte-americana.
Mas a questão realmente interessante talvez seja outra: por que é que, ao contrário do que ocorreu nos séculos 18 e 19, é difícil lembrar algum livro desse tipo que se tenha destacado, no século 20, na Europa ou nos Estados Unidos? Houve, sem dúvida, inúmeros ateus e agnósticos entre os cientistas, filósofos, escritores e artistas da época, mas, com a exceção de Bertrand Russell, não me ocorre nenhum pensador importante que tenha escrito específica e explicitamente contra a religião.
Será talvez que se haja pensado, como Marx, que a crítica da religião já se tivesse completado? A melhor descrição que conheço do estado de espírito em que, no que toca a religião, a maior parte dos intelectuais se encontrava no final do século 20 é a que o filósofo norte-americano John Searle fez, no seu admirável livro "Mind, Language and Society", de 1998.
Para ele, o mundo moderno simplesmente se desmistificara. Um exemplo dessa desmistificação é, segundo ele, a história de são Miniato, em honra ao qual ergue-se a igreja de San Miniato, em Florença. São Miniato foi um mártir cristão. Tendo sido condenado à morte, ele sobreviveu ao ataque de leões na arena, mas acabou sendo decapitado. Levantou-se então, pôs a cabeça debaixo do braço, saiu da arena, atravessou o rio e saiu da cidade. Em seguida, subiu até o topo do morro ao sul do Arno, e lá se sentou. Nesse lugar foi construída a sua igreja.
Segundo Searle, hoje os guias da cidade têm até vergonha de contar essa história. "O que interessa", diz, "não é o fato de que a consideramos falsa, mas o fato de que não a levamos a sério nem mesmo como uma possibilidade".
"Hoje em dia", observava Searle, "até evocar a questão da existência de Deus é considerado de mau gosto. Os assuntos religiosos são como os que dizem respeito às preferências sexuais de cada qual: não devem ser discutidos em público, e mesmo as questões abstratas só são discutidas por chatos".
Searle escreveu o texto há menos de dez anos; no entanto, ele já parece pertencer a outra época. Em 2007, é evidente que, longe de se limitarem à esfera privada, algumas religiões alimentam o sonho teocrático de privatizar o espaço público e policiar o privado. Assim, é importante que se escrevam e discutam livros como o de Dawkins.
A crítica e a religião
RECENTEMENTE, FORAM publicados vários livros que contestam a religião e mesmo a crença na existência de Deus. Creio que o de Richard Dawkins ("Deus, um Delírio"; Cia. das Letras, 2007; 528 pág., R$ 54) é, até agora, o mais conhecido e discutido, pelo menos no Brasil. Confesso que, inicialmente, não me senti muito animado a lê-lo. É que, tendo conferido algumas recensões de "Deus, um Delírio", eu havia ficado com a impressão de que o forte desse livro era tentar dar uma explicação darwinista das religiões e da crença na existência de Deus.
Ora, embora eu tenha uma admiração imensa pela teoria científica da evolução das espécies, sempre considerei excessivamente grosseiras todas as tentativas que até hoje conheci de exportá-la para o campo da sociedade humana.
Entretanto, alguns excelentes artigos, dentre os quais um do próprio Dawkins e outro do Marcelo Coelho (ambos na Ilustrada de 25/08), acabaram por atiçar a minha curiosidade a tal ponto que, na semana passada, decidi ler "Deus, um Delírio". Resultado: cheguei à conclusão de que se trata, em suma, de um livro desigual, mas que certamente merece ser lido.
Deixarei para comentar o livro do Dawkins outro dia, pois hoje quero tocar em algumas questões incidentais. Há quem se surpreenda com o fato de que, aparentemente, foram editados mais livros anti-religiosos na primeira década do século 21 do que nas últimas cinco décadas do século 20. Só dos livros traduzidos para o português, lembro-me, além do de Dawkins, do de Michel Onfray ("Tratado de Ateologia"; Martins Fontes, 2006), do de Daniel Dennet ("Quebrando o Encanto"; Globo, 2006), e do de Christopher Hitchens ("Deus Não É Grande"; Ediouro, 2007).
A que se deve esse fenômeno editorial? Em grande parte, sem dúvida, à percepção do risco que correm os direitos humanos em toda parte do mundo – ou melhor, à percepção do risco que corre o próprio mundo –, tanto em conseqüência dos atentados terroristas perpetrados por extremistas religiosos muçulmanos quanto em conseqüência do aumento da influência dos extremistas religiosos cristãos sobre a política interna e externa norte-americana.
Mas a questão realmente interessante talvez seja outra: por que é que, ao contrário do que ocorreu nos séculos 18 e 19, é difícil lembrar algum livro desse tipo que se tenha destacado, no século 20, na Europa ou nos Estados Unidos? Houve, sem dúvida, inúmeros ateus e agnósticos entre os cientistas, filósofos, escritores e artistas da época, mas, com a exceção de Bertrand Russell, não me ocorre nenhum pensador importante que tenha escrito específica e explicitamente contra a religião.
Será talvez que se haja pensado, como Marx, que a crítica da religião já se tivesse completado? A melhor descrição que conheço do estado de espírito em que, no que toca a religião, a maior parte dos intelectuais se encontrava no final do século 20 é a que o filósofo norte-americano John Searle fez, no seu admirável livro "Mind, Language and Society", de 1998.
Para ele, o mundo moderno simplesmente se desmistificara. Um exemplo dessa desmistificação é, segundo ele, a história de são Miniato, em honra ao qual ergue-se a igreja de San Miniato, em Florença. São Miniato foi um mártir cristão. Tendo sido condenado à morte, ele sobreviveu ao ataque de leões na arena, mas acabou sendo decapitado. Levantou-se então, pôs a cabeça debaixo do braço, saiu da arena, atravessou o rio e saiu da cidade. Em seguida, subiu até o topo do morro ao sul do Arno, e lá se sentou. Nesse lugar foi construída a sua igreja.
Segundo Searle, hoje os guias da cidade têm até vergonha de contar essa história. "O que interessa", diz, "não é o fato de que a consideramos falsa, mas o fato de que não a levamos a sério nem mesmo como uma possibilidade".
"Hoje em dia", observava Searle, "até evocar a questão da existência de Deus é considerado de mau gosto. Os assuntos religiosos são como os que dizem respeito às preferências sexuais de cada qual: não devem ser discutidos em público, e mesmo as questões abstratas só são discutidas por chatos".
Searle escreveu o texto há menos de dez anos; no entanto, ele já parece pertencer a outra época. Em 2007, é evidente que, longe de se limitarem à esfera privada, algumas religiões alimentam o sonho teocrático de privatizar o espaço público e policiar o privado. Assim, é importante que se escrevam e discutam livros como o de Dawkins.
Labels:
Ateísmo,
Crítica,
Desmitificação,
Deus,
Evolução,
Filosofia,
Religião,
Richard Dawkins
Assinar:
Postagens (Atom)