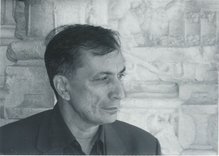Um clássico de Armando Freitas Filho:
Caçar em vão
Às vezes escreve-se a cavalo.
Arremetendo, com toda a carga.
Saltando obstáculos ou não.
Atropelando tudo, passando
por cima sem puxar o freio –
a galope – no susto, disparado
sobre pedras, fora da margem
feito só de patas, sem cabeça
nem tempo de ler no pensamento
o que corre ou o que empaca:
sem ter a calma e o cálculo
de quem colhe e cata feijão.
Do livro Fio terra
In: Máquina de escrever: poesia reunida e revista. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2003, p.583.
28.5.07
24.5.07
Entrevista a Washington Castilhos
Por ocasião da visita de Bento XVI, Washington Castilhos, do Sexuality Policy Watch (Observatório de Sexualidade e Política), escreveu vários artigos, extremamente interessantes, sobre a Igreja Católica e a sexualidade. Fui um dos entrevistados para o artigo “A ética entre o bem e o mal”, que pode ser encontrado através do seguinte link: http://www.sxpolitics.org/mambo452/index.php?option=com_content&task=view&id=106&Itemid=127. A seguir, publico as perguntas de Castilhos e as minhas respostas:
1. A pergunta central do texto é: é possivel para o homem constituir uma ética que não seja a religiosa?
Sim. Não consta que haja mais criminosos entre os irreligiosos do que entre os religiosos. O ser humano sabe que determinadas coisas são erradas porque é capaz de se colocar no lugar do outro e de colocar o outro no seu lugar. Quem faz uma coisa errada sabe que rompe um pacto tácito estabelecido com os outros seres humanos. Não é preciso religião para ensinar isso. A ética exposta por Kant, por exemplo, não é religiosa. As religiões não fazem senão – na melhor das hipóteses – espelhar os princípios e a regras que os homens elaboraram para poderem melhor conviver em sociedade. A prova disso é que, embora muitos dos princípios e regras que os homens se impõem não sejam espelhados pela religião, eles são, no entanto, respeitados. Por exemplo, achamos errado que uma pessoa abandone um amigo na hora da necessidade. Pensamos assim, embora esse princípio não tenha sido enunciado por nenhum dos mandamentos. Por que então imaginar que, se não existissem os mandamentos, não continuaríamos, do mesmo modo, a considerar algumas coisas certas e outras erradas? Os gregos não tinham mandamentos e acreditavam que seus deuses eram capazes de mentir, trair, roubar, e até de prender e castrar o pai, ou de devorar os filhos. Entretanto, tanto quanto nós, eles consideravam essas coisas erradas.
Alguns, porém, ainda que não sejam eles próprios religiosos, alegam que a religião é necessária como um freio para os impulsos criminosos de grande parte da humanidade. Para isso, o que realmente acham necessário inventar é o inferno. A existência do inferno seria uma "pia fraus", uma "mentira santa". Isso nada tem a ver com moral. Ao contrário, trata-se de uma fraude, de uma mentira, de uma imoralidade com finalidades repressivas. Como poderia estar uma imoralidade na base da moral?
O verdadeiro freio para os criminosos é a lei humana e a sua aplicação. Como diz, com razão, Pierre Bayle, "um mal que só se vê à distância ou por conjectura" – ele se refere ao Inferno – "não muda nossa conduta, como se pode ver pelo exemplo dos jovens que sabem que morrerão um dia ou pensam que morrerão talvez dentro em pouco e nem por isso estão prontos a mortificar suas paixões". E ainda: "A concupiscência sendo a fonte de todos os crimes, é evidente que, já que ela reina entre os religiosos, tanto que entre os ateus, os idólatras devem ser tão capazes de serem levados a todo tipo de crime quanto os ateus; e que uns e outros não teriam conseguido formar sociedades, se um freio mais forte que a relgião, a saber, as leis humanas, não reprimisse sua perversidade. E isso mostra a falta de fundamento que há em dizer que o conhecimento vago e confuso de uma Providência seja útil para enfraquecer a corrupção humana."
2. Nos pronunciamentos de Bento XVI, um tema se coloca como urgente proposta de caminho para a sociedade moderna: o alargamento da razão. O papa Bento XVI sonha com uma Igreja que se contraponha ao que enxerga como a principal fraqueza da cultura contemporânea: o relativismo. Na opinião do papa a razão encontra-se hoje reduzida, resumida à cientificidade, existem nas palavras dele "patologias da razão" ou "hybris da razão", como também ele chama. Para isso, ele propõe o tal "alargamento da razão" como saída ao "laicismo dominante". Como o sr analisa esse raciocínio? Em sua opinião, a Igreja Católica tem problemas em lidar com a modernidade?
Francamente, não vejo grande novidade no discurso de Bento XVI. O que é diferente é a atitude dele, que é mais agressiva, na defesa dos dogmas da Igreja Católica. No fundo, foi a partir da grande síntese de fé e razão empreendida por são Tomás de Aquino que, em Regensburg, ele atacou o fideísmo muçulmano e protestante. Graças a uma interpretação extremamente questionável de santo Agostinho e são Paulo – interpretação que os coloca demasiadamente próximos da posição de Tomás – ele localiza na Idade Média tardia, em Duns Scotus, a origem do fideísmo ocidental e, com isso, do Protestantismo. Este seria, portanto, o resultado de um desvio da linha correta, isto é, tomista.
A meu ver, o que na verdade ocorreu foi que a teologia da Idade Média tardia se deu conta da irrecuperável incompatibilidade entre a razão e a religião revelada: entre o Deus dos filósofos e o Deus de Abraão, como diria Pascal mais tarde. Ela percebeu esse problema, não por uma insuficiência da sua racionalidade, mas, ao contrário, por ter sido intransigentemente racional. Foi por não querer diminuir nem a razão, nem a religião, que ela optou pelo dualismo. Pode-se dizer que o fundamentalismo protestante é a opção exclusiva pelo lado da fé e, por outro lado, que o positivismo – que, junto com o relativismo, é o outro alvo dos ataques de Bento XVI – é a opção pelo lado da razão. É por causa dessa origem que, de certo modo, justifica-se tomar o positivismo como uma razão diminuída, uma razão que limita a si própria.
A solução para essas limitações é, evidentemente, o abandono da própria problemática da relação entre a fé e a razão, que o positivismo ainda inconscientemente conserva. A verdadeira razão ampliada é a razão ilimitadamente livre e crítica, a razão tout court, e a principal condição para o seu exercício é a sociedade aberta. A tentativa de Bento XVI de voltar ao tomismo, como se nada senão um desvio tivesse ocorrido depois dele, é simplesmente regressiva e, por isso, destinada ao fracasso.
3. Em um texto recente seu, o sr afirma que é preciso defender a modernidade e a razão contra ataques da esquerda e da direita e afirma que é perigoso "relativizar a razão pelo sentimento". É perigoso relativizar a razão pela fé?
Sem dúvida. Colocar a fé, que é o oposto da razão, antes da razão é ser irracionalista. O irracionalismo – principalmente no que diz respeito à esfera pública – é o que há de mais perigoso.
3. Como o sr analisa a ética católica em relação à reprodução e à sexualidade e a moralidade que ela imprime a temas relativos a esses campos?
O catolicismo alega defender a vida, mas a verdade é que a vida que realmente importa, para ele, não é esta, mas a "outra", isto é, a "eterna", isto é, a que vem depois da morte, isto é, a própria morte. E, perto da vida eterna, o que é, para o verdadeiro católico, o sofrimento nesta vida? Assim, o catolicismo não defende a vida, mas a morte e o sofrimento. "Quem quer o celeste", dizia são Bernardo, "não gosta do terrestre; quem anseia pelo eterno despreza o transitório". Desse modo, os prazeres terrenos não valem por si e estão muito próximos do pecado, pois afastam o ser humano do celeste e do eterno. Não é, pois, por um respeito absoluto pela vida terrena – respeito que ela jamais teve – que a Igreja condena o aborto, mas, em primeiro lugar, porque, segundo a sua interpretação teleológica do mundo, o prazer sexual não tem, para ela, finalidade em si próprio, mas na reprodução, e, em segundo lugar, porque quer afirmar a heteronomia do ser humano, quer afirmar sua convicção de que o ser humano não é dono de si próprio nem do seu corpo. É por essas mesmas razões que ela condena a homossexualidade.
Penso que cada um tem o direito de acreditar no que quiser, por mais irracional que seja, e de agir de acordo com as suas crenças, desde que, ao fazê-lo, não infrinja idêntico direito de outrem. Isso porém implica que ninguém – nem indivíduos nem instituições laicas ou religiosas – tem o direito de impor as suas crenças particulares ou o seu modo de vida aos outros. Assim, a Igreja está sendo subversiva do princípio universal do direito e do Estado laico quando, por exemplo, tenta impedir os casais homossexuais de terem as suas parcerias civis reconhecidas pela lei.
1. A pergunta central do texto é: é possivel para o homem constituir uma ética que não seja a religiosa?
Sim. Não consta que haja mais criminosos entre os irreligiosos do que entre os religiosos. O ser humano sabe que determinadas coisas são erradas porque é capaz de se colocar no lugar do outro e de colocar o outro no seu lugar. Quem faz uma coisa errada sabe que rompe um pacto tácito estabelecido com os outros seres humanos. Não é preciso religião para ensinar isso. A ética exposta por Kant, por exemplo, não é religiosa. As religiões não fazem senão – na melhor das hipóteses – espelhar os princípios e a regras que os homens elaboraram para poderem melhor conviver em sociedade. A prova disso é que, embora muitos dos princípios e regras que os homens se impõem não sejam espelhados pela religião, eles são, no entanto, respeitados. Por exemplo, achamos errado que uma pessoa abandone um amigo na hora da necessidade. Pensamos assim, embora esse princípio não tenha sido enunciado por nenhum dos mandamentos. Por que então imaginar que, se não existissem os mandamentos, não continuaríamos, do mesmo modo, a considerar algumas coisas certas e outras erradas? Os gregos não tinham mandamentos e acreditavam que seus deuses eram capazes de mentir, trair, roubar, e até de prender e castrar o pai, ou de devorar os filhos. Entretanto, tanto quanto nós, eles consideravam essas coisas erradas.
Alguns, porém, ainda que não sejam eles próprios religiosos, alegam que a religião é necessária como um freio para os impulsos criminosos de grande parte da humanidade. Para isso, o que realmente acham necessário inventar é o inferno. A existência do inferno seria uma "pia fraus", uma "mentira santa". Isso nada tem a ver com moral. Ao contrário, trata-se de uma fraude, de uma mentira, de uma imoralidade com finalidades repressivas. Como poderia estar uma imoralidade na base da moral?
O verdadeiro freio para os criminosos é a lei humana e a sua aplicação. Como diz, com razão, Pierre Bayle, "um mal que só se vê à distância ou por conjectura" – ele se refere ao Inferno – "não muda nossa conduta, como se pode ver pelo exemplo dos jovens que sabem que morrerão um dia ou pensam que morrerão talvez dentro em pouco e nem por isso estão prontos a mortificar suas paixões". E ainda: "A concupiscência sendo a fonte de todos os crimes, é evidente que, já que ela reina entre os religiosos, tanto que entre os ateus, os idólatras devem ser tão capazes de serem levados a todo tipo de crime quanto os ateus; e que uns e outros não teriam conseguido formar sociedades, se um freio mais forte que a relgião, a saber, as leis humanas, não reprimisse sua perversidade. E isso mostra a falta de fundamento que há em dizer que o conhecimento vago e confuso de uma Providência seja útil para enfraquecer a corrupção humana."
2. Nos pronunciamentos de Bento XVI, um tema se coloca como urgente proposta de caminho para a sociedade moderna: o alargamento da razão. O papa Bento XVI sonha com uma Igreja que se contraponha ao que enxerga como a principal fraqueza da cultura contemporânea: o relativismo. Na opinião do papa a razão encontra-se hoje reduzida, resumida à cientificidade, existem nas palavras dele "patologias da razão" ou "hybris da razão", como também ele chama. Para isso, ele propõe o tal "alargamento da razão" como saída ao "laicismo dominante". Como o sr analisa esse raciocínio? Em sua opinião, a Igreja Católica tem problemas em lidar com a modernidade?
Francamente, não vejo grande novidade no discurso de Bento XVI. O que é diferente é a atitude dele, que é mais agressiva, na defesa dos dogmas da Igreja Católica. No fundo, foi a partir da grande síntese de fé e razão empreendida por são Tomás de Aquino que, em Regensburg, ele atacou o fideísmo muçulmano e protestante. Graças a uma interpretação extremamente questionável de santo Agostinho e são Paulo – interpretação que os coloca demasiadamente próximos da posição de Tomás – ele localiza na Idade Média tardia, em Duns Scotus, a origem do fideísmo ocidental e, com isso, do Protestantismo. Este seria, portanto, o resultado de um desvio da linha correta, isto é, tomista.
A meu ver, o que na verdade ocorreu foi que a teologia da Idade Média tardia se deu conta da irrecuperável incompatibilidade entre a razão e a religião revelada: entre o Deus dos filósofos e o Deus de Abraão, como diria Pascal mais tarde. Ela percebeu esse problema, não por uma insuficiência da sua racionalidade, mas, ao contrário, por ter sido intransigentemente racional. Foi por não querer diminuir nem a razão, nem a religião, que ela optou pelo dualismo. Pode-se dizer que o fundamentalismo protestante é a opção exclusiva pelo lado da fé e, por outro lado, que o positivismo – que, junto com o relativismo, é o outro alvo dos ataques de Bento XVI – é a opção pelo lado da razão. É por causa dessa origem que, de certo modo, justifica-se tomar o positivismo como uma razão diminuída, uma razão que limita a si própria.
A solução para essas limitações é, evidentemente, o abandono da própria problemática da relação entre a fé e a razão, que o positivismo ainda inconscientemente conserva. A verdadeira razão ampliada é a razão ilimitadamente livre e crítica, a razão tout court, e a principal condição para o seu exercício é a sociedade aberta. A tentativa de Bento XVI de voltar ao tomismo, como se nada senão um desvio tivesse ocorrido depois dele, é simplesmente regressiva e, por isso, destinada ao fracasso.
3. Em um texto recente seu, o sr afirma que é preciso defender a modernidade e a razão contra ataques da esquerda e da direita e afirma que é perigoso "relativizar a razão pelo sentimento". É perigoso relativizar a razão pela fé?
Sem dúvida. Colocar a fé, que é o oposto da razão, antes da razão é ser irracionalista. O irracionalismo – principalmente no que diz respeito à esfera pública – é o que há de mais perigoso.
3. Como o sr analisa a ética católica em relação à reprodução e à sexualidade e a moralidade que ela imprime a temas relativos a esses campos?
O catolicismo alega defender a vida, mas a verdade é que a vida que realmente importa, para ele, não é esta, mas a "outra", isto é, a "eterna", isto é, a que vem depois da morte, isto é, a própria morte. E, perto da vida eterna, o que é, para o verdadeiro católico, o sofrimento nesta vida? Assim, o catolicismo não defende a vida, mas a morte e o sofrimento. "Quem quer o celeste", dizia são Bernardo, "não gosta do terrestre; quem anseia pelo eterno despreza o transitório". Desse modo, os prazeres terrenos não valem por si e estão muito próximos do pecado, pois afastam o ser humano do celeste e do eterno. Não é, pois, por um respeito absoluto pela vida terrena – respeito que ela jamais teve – que a Igreja condena o aborto, mas, em primeiro lugar, porque, segundo a sua interpretação teleológica do mundo, o prazer sexual não tem, para ela, finalidade em si próprio, mas na reprodução, e, em segundo lugar, porque quer afirmar a heteronomia do ser humano, quer afirmar sua convicção de que o ser humano não é dono de si próprio nem do seu corpo. É por essas mesmas razões que ela condena a homossexualidade.
Penso que cada um tem o direito de acreditar no que quiser, por mais irracional que seja, e de agir de acordo com as suas crenças, desde que, ao fazê-lo, não infrinja idêntico direito de outrem. Isso porém implica que ninguém – nem indivíduos nem instituições laicas ou religiosas – tem o direito de impor as suas crenças particulares ou o seu modo de vida aos outros. Assim, a Igreja está sendo subversiva do princípio universal do direito e do Estado laico quando, por exemplo, tenta impedir os casais homossexuais de terem as suas parcerias civis reconhecidas pela lei.
23.5.07
Eucanaã Ferraz: Presto
Um esplêndido poema do Eucanaã Ferraz:
Presto
Os dias despencam
aos pedaços. Logo será janeiro.
Posso farejar o amarelo das amendoeiras
de então (amarelas como teu cabelo)
e a praia, os bares, a ferrugem, nossas costas
e braços liquefeitos. Tanto faz a solidão,
a companhia: tudo são doenças tropicais,
incuráveis. O verão virá, forasteiro,
no vôo tonto, nupcial dos cupins
em volta das lâmpadas. Janeiro
está próximo, pressinto seu peso, a alegria,
o tremor, a sezão, o óleo,
a girândola veloz dos relógios
a nos golpear no ventre. Girassóis
em bando assestarão suas lâminas
em direção aos táxis
enquanto os rios, erráticos, desaguarão
à porta dos edifícios da Senador Vergueiro.
In: FERRAZ, Eucanaã. Rua do mundo. São Paulo: Companhia das Letras, 2004, p.9.
Presto
Os dias despencam
aos pedaços. Logo será janeiro.
Posso farejar o amarelo das amendoeiras
de então (amarelas como teu cabelo)
e a praia, os bares, a ferrugem, nossas costas
e braços liquefeitos. Tanto faz a solidão,
a companhia: tudo são doenças tropicais,
incuráveis. O verão virá, forasteiro,
no vôo tonto, nupcial dos cupins
em volta das lâmpadas. Janeiro
está próximo, pressinto seu peso, a alegria,
o tremor, a sezão, o óleo,
a girândola veloz dos relógios
a nos golpear no ventre. Girassóis
em bando assestarão suas lâminas
em direção aos táxis
enquanto os rios, erráticos, desaguarão
à porta dos edifícios da Senador Vergueiro.
In: FERRAZ, Eucanaã. Rua do mundo. São Paulo: Companhia das Letras, 2004, p.9.
Labels:
Eucanaã Ferraz,
Poema
21.5.07
A poesia é um segredo dos deuses?
O seguinte artigo foi publicado na minha coluna da Folha de São Paulo, sábado, 19 de maio:
A poesia é um segredo dos deuses?
NUMA MESA-REDONDA de que participei recentemente, no encontro de escritores que tem lugar anualmente em Póvoa de Varzim, no norte de Portugal, o tema proposto para discussão foi: "A poesia é um segredo dos deuses". A propósito desse assunto, lembro que João Cabral dividia os poetas entre aqueles que tinham a poesia espontaneamente, como presente dos deuses, e aqueles -entre os quais ele mesmo se situava- que a obtinham após uma elaboração demorada, como conquista humana. Ora, o tema da nossa mesa havia sido proposto tanto para deixar à vontade os poetas do primeiro grupo, isto é, os que acreditam na inspiração, quanto para provocar os do segundo, isto é, os que não acreditam nela, de maneira que uns e outros se sentissem livres para expor as suas poéticas divergentes.
Quanto a mim, não sinto que caiba inteiramente em nenhum desses dois grupos. Certamente considero uma tolice pensar que a poesia seja pura inspiração, pura dádiva dos deuses; mas penso que há também um quê daquela violência que os gregos chamavam de "húbris", um quê de insolência e arrogância na tese de que ela seja o resultado plenamente consciente e calculado do trabalho.
“Inspiração” é o nome que damos à contribuição indispensável do incalculável, do inconsciente, do acaso e mesmo do equívoco à elaboração do poema. Nenhum grande poeta -nem mesmo João Cabral- jamais pôde deixar de se fazer disponível e receptível à irrupção dessas gratas e imprevisíveis contribuições. "A arte ama o acaso", diz Aristóteles, com razão, "e o acaso, a arte". E o acaso e a arte se encontram inextricavelmente entrelaçados na feitura do poema.
A tal ponto isso me parece verdade que não acho muita graça nas boutades segundo as quais a poesia seria 10% inspiração e 90% transpiração. Por quê? Porque elas sugerem a idéia comum e equivocada de que o poeta tem, em primeiro lugar, a inspiração, para depois ter o trabalho de desenvolvê-la e poli-la.
Ora, penso que é justamente durante o trabalho, na busca de alternativas ao imediato e fácil, ou na tentativa de solucionar problemas criados pelo desenvolvimento do próprio poema, que a inspiração é mais solicitada e bem-vinda; e, por sua vez, a incorporação do impremeditado ao poema exige sempre uma nova elaboração, de modo que jamais se pode saber ao certo quanto do resultado final se deve à inspiração ou ao trabalho.
O fato é que a mim são muito simpáticos os deuses que representam as fontes de inspiração dos poetas, como Apolo e as Musas. A estas, aliás, já dediquei, em gratidão, pelo menos um dos poemas que fiz. Entretanto, dado que também reconheço o papel indispensável do trabalho consciente na produção dos poemas, não acho correto dizer que a poesia seja um presente delas.
E, por duas razões, parece-me claro que a poesia não pode ser um segredo dos deuses. A primeira é que a poesia é um fenômeno humano, demasiadamente humano. Longe de consistir numa atividade puramente racional, ela lida com o que é particular, finito, humano. Ela usa palavras particulares de línguas particulares, finitas, humanas. Ela lida com a morte, a paixão, a perda, a ilusão, a esperança, o medo, a imaginação, o cômico, o trágico etc., que são realidades particulares, finitas, humanas. E a própria beleza da poesia é encarnada, sensual, particular, finita, humana. Os deuses -imortais, olímpicos, abençoados, oniscientes- não entenderiam tais coisas ou as desprezariam, pois se encontram muito acima delas. Conhecendo a poesia, o ser humano conhece uma maravilha que nenhum deus é capaz de conhecer.
Ademais, a poesia não pode ser um segredo, nem dos deuses, nem dos homens, nem mesmo do ponto de vista lógico. Por quê? Porque um segredo é algo que, em princípio, poderia ser revelado. Por exemplo, a fórmula de uma bomba ou a receita de um doce podem ser segredos, porque podem, em princípio, ser revelados. Se alguém diz que sabe um segredo, mas que não seria capaz de revelá-lo de modo nenhum, essa pessoa está mentindo. Um segredo tem que ser conhecido ao menos por uma pessoa ou um deus. Ora, é possível fazer um bom poema, mas não é possível, nem em princípio, saber como deve ser um poema, para ser bom. Essa é, na verdade, uma das poucas certezas que um poeta pode ter: é absolutamente inconcebível que haja fórmulas, receitas ou segredos -divinos ou humanos- para a feitura de um bom poema. Logo, a poesia não é um segredo dos deuses.
A poesia é um segredo dos deuses?
NUMA MESA-REDONDA de que participei recentemente, no encontro de escritores que tem lugar anualmente em Póvoa de Varzim, no norte de Portugal, o tema proposto para discussão foi: "A poesia é um segredo dos deuses". A propósito desse assunto, lembro que João Cabral dividia os poetas entre aqueles que tinham a poesia espontaneamente, como presente dos deuses, e aqueles -entre os quais ele mesmo se situava- que a obtinham após uma elaboração demorada, como conquista humana. Ora, o tema da nossa mesa havia sido proposto tanto para deixar à vontade os poetas do primeiro grupo, isto é, os que acreditam na inspiração, quanto para provocar os do segundo, isto é, os que não acreditam nela, de maneira que uns e outros se sentissem livres para expor as suas poéticas divergentes.
Quanto a mim, não sinto que caiba inteiramente em nenhum desses dois grupos. Certamente considero uma tolice pensar que a poesia seja pura inspiração, pura dádiva dos deuses; mas penso que há também um quê daquela violência que os gregos chamavam de "húbris", um quê de insolência e arrogância na tese de que ela seja o resultado plenamente consciente e calculado do trabalho.
“Inspiração” é o nome que damos à contribuição indispensável do incalculável, do inconsciente, do acaso e mesmo do equívoco à elaboração do poema. Nenhum grande poeta -nem mesmo João Cabral- jamais pôde deixar de se fazer disponível e receptível à irrupção dessas gratas e imprevisíveis contribuições. "A arte ama o acaso", diz Aristóteles, com razão, "e o acaso, a arte". E o acaso e a arte se encontram inextricavelmente entrelaçados na feitura do poema.
A tal ponto isso me parece verdade que não acho muita graça nas boutades segundo as quais a poesia seria 10% inspiração e 90% transpiração. Por quê? Porque elas sugerem a idéia comum e equivocada de que o poeta tem, em primeiro lugar, a inspiração, para depois ter o trabalho de desenvolvê-la e poli-la.
Ora, penso que é justamente durante o trabalho, na busca de alternativas ao imediato e fácil, ou na tentativa de solucionar problemas criados pelo desenvolvimento do próprio poema, que a inspiração é mais solicitada e bem-vinda; e, por sua vez, a incorporação do impremeditado ao poema exige sempre uma nova elaboração, de modo que jamais se pode saber ao certo quanto do resultado final se deve à inspiração ou ao trabalho.
O fato é que a mim são muito simpáticos os deuses que representam as fontes de inspiração dos poetas, como Apolo e as Musas. A estas, aliás, já dediquei, em gratidão, pelo menos um dos poemas que fiz. Entretanto, dado que também reconheço o papel indispensável do trabalho consciente na produção dos poemas, não acho correto dizer que a poesia seja um presente delas.
E, por duas razões, parece-me claro que a poesia não pode ser um segredo dos deuses. A primeira é que a poesia é um fenômeno humano, demasiadamente humano. Longe de consistir numa atividade puramente racional, ela lida com o que é particular, finito, humano. Ela usa palavras particulares de línguas particulares, finitas, humanas. Ela lida com a morte, a paixão, a perda, a ilusão, a esperança, o medo, a imaginação, o cômico, o trágico etc., que são realidades particulares, finitas, humanas. E a própria beleza da poesia é encarnada, sensual, particular, finita, humana. Os deuses -imortais, olímpicos, abençoados, oniscientes- não entenderiam tais coisas ou as desprezariam, pois se encontram muito acima delas. Conhecendo a poesia, o ser humano conhece uma maravilha que nenhum deus é capaz de conhecer.
Ademais, a poesia não pode ser um segredo, nem dos deuses, nem dos homens, nem mesmo do ponto de vista lógico. Por quê? Porque um segredo é algo que, em princípio, poderia ser revelado. Por exemplo, a fórmula de uma bomba ou a receita de um doce podem ser segredos, porque podem, em princípio, ser revelados. Se alguém diz que sabe um segredo, mas que não seria capaz de revelá-lo de modo nenhum, essa pessoa está mentindo. Um segredo tem que ser conhecido ao menos por uma pessoa ou um deus. Ora, é possível fazer um bom poema, mas não é possível, nem em princípio, saber como deve ser um poema, para ser bom. Essa é, na verdade, uma das poucas certezas que um poeta pode ter: é absolutamente inconcebível que haja fórmulas, receitas ou segredos -divinos ou humanos- para a feitura de um bom poema. Logo, a poesia não é um segredo dos deuses.
19.5.07
Heidegger e o latim
Como, a partir do comentário de Osrevni (17/05;2007) sobre o meu artigo “A filosofia e a língua alemã”, de 07/05/2007, dei mais algumas precisões que me parecem importantes sobre o pensamento de Heidegger a respeito do papel das traduções latinas dos conceitos filosóficos gregos, resolvi aqui publicar tanto o comentário quanto a resposta:
Osrevni disse:
É curioso, meu curso sobre o Nascimento da Tragédia de Nietzsche começou justamente com essa associação França-Roma, Alemanha-Grécia, que era moda do Idealismo alemão... mas o Heidegger, se não me falha a memória, atribui o esquecimento do ser já a muitos filósofos gregos; bom, pra isso eu precisaria dar uma olhada mais profunda.
Saravá!
17 de Maio de 2007 13:26
Antonio Cícero disse:
Caro Osrevni,
Heidegger achava que o começo do esquecimento do ser começou a acontecer na filosofia clássica de Platão e Aristóteles. Entretanto, Heidegger era extremamente ambivalente em relação a esse começo do fim. Embora falasse às vezes de decadência, ele também dizia que “apesar de tudo, essa decadência ficou nas alturas, não se afundou na baixeza” (v. Einführung in die Metaphysik. Tübingen, 1987, p.141). Ela era decadência somente em relação ao que ele considerava o momento mais alto – anterior a Sócrates – do pensamento grego. Mas foi Roma que, para ele, realizou plenamente o que havia sido apenas uma tendência do pensamento clássico. Este se teria tornado “indeterminado, vulgarizado e aguado”, segundo ele, “pela ‘tradução’ ao romano” (sic: In Grundfragen der Philosophie. Ausgewählte ‘Probleme’ der Logik’. Frankfurt am Main, 1984, p.70 e 68). Em “A origem da obra de arte”, ele diz explicitamente que “o pensamento tomou as palavras gregas sem a experiência correspondente e originária que elas diziam, sem a palavra grega. A falta de chão do pensamento ocidental começa com essa tradução” (In: “Der Ursprung des Kunstwerkes”. In: Holzwege. Frankfurt am Main, 1977, p.8.).
18 de Maio de 2007 00:13
Osrevni disse:
É curioso, meu curso sobre o Nascimento da Tragédia de Nietzsche começou justamente com essa associação França-Roma, Alemanha-Grécia, que era moda do Idealismo alemão... mas o Heidegger, se não me falha a memória, atribui o esquecimento do ser já a muitos filósofos gregos; bom, pra isso eu precisaria dar uma olhada mais profunda.
Saravá!
17 de Maio de 2007 13:26
Antonio Cícero disse:
Caro Osrevni,
Heidegger achava que o começo do esquecimento do ser começou a acontecer na filosofia clássica de Platão e Aristóteles. Entretanto, Heidegger era extremamente ambivalente em relação a esse começo do fim. Embora falasse às vezes de decadência, ele também dizia que “apesar de tudo, essa decadência ficou nas alturas, não se afundou na baixeza” (v. Einführung in die Metaphysik. Tübingen, 1987, p.141). Ela era decadência somente em relação ao que ele considerava o momento mais alto – anterior a Sócrates – do pensamento grego. Mas foi Roma que, para ele, realizou plenamente o que havia sido apenas uma tendência do pensamento clássico. Este se teria tornado “indeterminado, vulgarizado e aguado”, segundo ele, “pela ‘tradução’ ao romano” (sic: In Grundfragen der Philosophie. Ausgewählte ‘Probleme’ der Logik’. Frankfurt am Main, 1984, p.70 e 68). Em “A origem da obra de arte”, ele diz explicitamente que “o pensamento tomou as palavras gregas sem a experiência correspondente e originária que elas diziam, sem a palavra grega. A falta de chão do pensamento ocidental começa com essa tradução” (In: “Der Ursprung des Kunstwerkes”. In: Holzwege. Frankfurt am Main, 1977, p.8.).
18 de Maio de 2007 00:13
Labels:
Decadência,
Filosofia,
Grécia,
Latim,
Martin Heidegger
17.5.07
Hudson Carvalho: FHC é candidato
Uma excelente análise política do Hudson Carvalho:
FHC é candidato
Esta é forte; mas, considerando-se o artigo (“Um Brasil melhor”) que escreveu recentemente em O Globo, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso é candidatíssimo a tentar voltar ao Palácio do Planalto, em 2010.
No artigo, em resumo, FHC flerta, sem assumi-lo, com o conhecido conceito que embaralha política e guerra, quando diz que nos embates eleitorais “o ponto de aglutinação da militância e, mais tarde, dos eleitores, depende dos estados-maiores partidários ... para ter objetivos claros e ser capaz de alentar os que lutam pela causa”. E adverte que o ano de 2010 está longe, “mas muito perto do momento que requer um discurso político vigoroso, de unidade, que mantenha o moral do eleitorado oposicionista e apresente a todos alternativas”. E lembra que, na ausência desse discurso, se a economia não estiver mal – como ele admite que não esteja -, o “eleitor comum” tenderá a ficar novamente com o já conhecido e feito.
FHC prescreve ainda a aliança das agremiações oposicionistas, sobretudo daquelas que refletem os anseios dos “setores de vanguarda das classes médias, que querem novos rumos”. E observa que à falta de “definições simples, abrangentes e claras sobre o que os partidos querem, as discussões serão sempre sobre quem, ao invés de ser sobre o quê”, fulanizando previamente o debate e restringindo o processo a apenas aos círculos íntimos dos supostos presidenciáveis. Para ele, isso não é suficiente para mobilizar os recursos humanos necessários para enfrentar os desafios do século XXI.
E, espetando o presidente Lula, useiro e vezeiro em exaltar a natureza inaugural das façanhas do seu governo, Fernando Henrique Cardoso convoca-nos a não nos comparar conosco mesmo, e, sim, com o que acontece com o mundo, para vermos que “os nossos concorrentes avançam a passos largos, enquanto nós voltamos ao ufanismo ingênuo, marcando passos, afogados na irrelevância”. E complementa: “Devemos ser contemporâneos do século XXI e não do passado”.
E prossegue no ataque a Lula: “Se quisermos projetar um futuro que não seja de esmolas para os pobres disfarçadas em bolsas e de concentração de renda ainda maior, temos que assegurar à maioria condições para competir e obter emprego, com melhor educação e mais crescimento econômico. Caso contrário, seguiremos no rumo do apartheid moderno, que transforma o estado em casa de misericórdia e o mercado em apanágio dos bem-educados”.
Por fim, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso sentencia, com razão, que “o povo cansou de ouvir os políticos” e que “a oposição não pode se restringir ao Congresso”, apregoando a combinação de mídia com ação direta como elemento relevante da política contemporânea, e clamando por uma participação da sociedade mais afeita aos oráculos da extrema-esquerda.
Fernando Henrique Cardoso tem se dedicado a intentar imprimir mais organicidade, ênfase e eficácia a oposição feita contra o governo presente. Às vezes, em dissonância com o seu próprio partido, hoje sem discurso, sem rumo, dividido quanto à tonalidade oposicionista e, equivocadamente, acomodado a hipotética competitividade de dois governadores de suas hostes. A despeito dos avanços do seu governo, notadamente na esfera econômica, o cotejo com a administração atual não lhe tem sido patentemente favorável. FHC demonstra ressentir muito disso. Freqüentemente insurge-se contra o seu sucessor, aparentemente, instigado por espírito menor e por fígado avinagrado.
As circunstâncias e os humores fermentados de Fernando Henrique Cardoso, no entanto, não desqualificam necessariamente as premissas defendidas no seu artigo. É razoável se admitir que, pelo menos, parte do seu diagnóstico esteja correta. É percebível a olho nu, porém, que, por trás do arrazoado, se apresenta também a pretensão extemporânea de um homem vaidoso e qualificado que não consegue digerir as comparações desfavoráveis com o operário que lhe herdou o trono nem se libertar das tentações dos resorts do poder.
FHC é candidato
Esta é forte; mas, considerando-se o artigo (“Um Brasil melhor”) que escreveu recentemente em O Globo, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso é candidatíssimo a tentar voltar ao Palácio do Planalto, em 2010.
No artigo, em resumo, FHC flerta, sem assumi-lo, com o conhecido conceito que embaralha política e guerra, quando diz que nos embates eleitorais “o ponto de aglutinação da militância e, mais tarde, dos eleitores, depende dos estados-maiores partidários ... para ter objetivos claros e ser capaz de alentar os que lutam pela causa”. E adverte que o ano de 2010 está longe, “mas muito perto do momento que requer um discurso político vigoroso, de unidade, que mantenha o moral do eleitorado oposicionista e apresente a todos alternativas”. E lembra que, na ausência desse discurso, se a economia não estiver mal – como ele admite que não esteja -, o “eleitor comum” tenderá a ficar novamente com o já conhecido e feito.
FHC prescreve ainda a aliança das agremiações oposicionistas, sobretudo daquelas que refletem os anseios dos “setores de vanguarda das classes médias, que querem novos rumos”. E observa que à falta de “definições simples, abrangentes e claras sobre o que os partidos querem, as discussões serão sempre sobre quem, ao invés de ser sobre o quê”, fulanizando previamente o debate e restringindo o processo a apenas aos círculos íntimos dos supostos presidenciáveis. Para ele, isso não é suficiente para mobilizar os recursos humanos necessários para enfrentar os desafios do século XXI.
E, espetando o presidente Lula, useiro e vezeiro em exaltar a natureza inaugural das façanhas do seu governo, Fernando Henrique Cardoso convoca-nos a não nos comparar conosco mesmo, e, sim, com o que acontece com o mundo, para vermos que “os nossos concorrentes avançam a passos largos, enquanto nós voltamos ao ufanismo ingênuo, marcando passos, afogados na irrelevância”. E complementa: “Devemos ser contemporâneos do século XXI e não do passado”.
E prossegue no ataque a Lula: “Se quisermos projetar um futuro que não seja de esmolas para os pobres disfarçadas em bolsas e de concentração de renda ainda maior, temos que assegurar à maioria condições para competir e obter emprego, com melhor educação e mais crescimento econômico. Caso contrário, seguiremos no rumo do apartheid moderno, que transforma o estado em casa de misericórdia e o mercado em apanágio dos bem-educados”.
Por fim, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso sentencia, com razão, que “o povo cansou de ouvir os políticos” e que “a oposição não pode se restringir ao Congresso”, apregoando a combinação de mídia com ação direta como elemento relevante da política contemporânea, e clamando por uma participação da sociedade mais afeita aos oráculos da extrema-esquerda.
Fernando Henrique Cardoso tem se dedicado a intentar imprimir mais organicidade, ênfase e eficácia a oposição feita contra o governo presente. Às vezes, em dissonância com o seu próprio partido, hoje sem discurso, sem rumo, dividido quanto à tonalidade oposicionista e, equivocadamente, acomodado a hipotética competitividade de dois governadores de suas hostes. A despeito dos avanços do seu governo, notadamente na esfera econômica, o cotejo com a administração atual não lhe tem sido patentemente favorável. FHC demonstra ressentir muito disso. Freqüentemente insurge-se contra o seu sucessor, aparentemente, instigado por espírito menor e por fígado avinagrado.
As circunstâncias e os humores fermentados de Fernando Henrique Cardoso, no entanto, não desqualificam necessariamente as premissas defendidas no seu artigo. É razoável se admitir que, pelo menos, parte do seu diagnóstico esteja correta. É percebível a olho nu, porém, que, por trás do arrazoado, se apresenta também a pretensão extemporânea de um homem vaidoso e qualificado que não consegue digerir as comparações desfavoráveis com o operário que lhe herdou o trono nem se libertar das tentações dos resorts do poder.
Labels:
Fernando Henrique Cardoso,
Hudson Carvalho,
Política
15.5.07
Hölderlin: Buonaparte
Em comentário ao poema “Sócrates e Alcibíades”, j.c.p. citou outro poema de Hölderlin, o “Buonaparte”. Como eu já o havia traduzido para o meu ensaio sobre Hölderlin, intitulado “O destino do homem” (in Poetas que pensaram o mundo. Org. p. Adauto Novaes. São Paulo: Companhia das Letras, 2005, p.225-268), publico-o aqui:
Buonaparte
Vasos sagrados são os poetas
Em que o vinho da vida, o espírito
Dos heróis se preserva,
Mas o espírito desse jovem,
O rápido, não explodiria
O vaso que tentasse contê-lo?
Que o poeta o largue intacto como o espírito da [natureza,
Em tal matéria torna-se aprendiz o mestre.
No poema ele não pode viver e ficar:
Ele vive e fica no mundo.
Buonaparte
Heilige Gefäße sind die Dichter,
Worin des Lebens Wein, der Geist
Der Helden, sich aufbewahrt,
Aber der Geist dieses Jünglings,
Der schnelle, müßt er es nicht zersprengen,
Wo es ihn fassen wollte, das Gefäß?
Der Dichter laß ihn unberührt wie den Geist der Natur,
An solchem Stoffe wird zum Knaben der Meister.
Er kann im Gedichte nicht leben und bleiben,
Er lebt und bleibt in der Welt.
HÖLDERLIN, F. „Buonaparte“. In: Sämtliche Werke und Briefe.Vol.1. München: Carl Hanser Verlag, 1970, p.217.
Buonaparte
Vasos sagrados são os poetas
Em que o vinho da vida, o espírito
Dos heróis se preserva,
Mas o espírito desse jovem,
O rápido, não explodiria
O vaso que tentasse contê-lo?
Que o poeta o largue intacto como o espírito da [natureza,
Em tal matéria torna-se aprendiz o mestre.
No poema ele não pode viver e ficar:
Ele vive e fica no mundo.
Buonaparte
Heilige Gefäße sind die Dichter,
Worin des Lebens Wein, der Geist
Der Helden, sich aufbewahrt,
Aber der Geist dieses Jünglings,
Der schnelle, müßt er es nicht zersprengen,
Wo es ihn fassen wollte, das Gefäß?
Der Dichter laß ihn unberührt wie den Geist der Natur,
An solchem Stoffe wird zum Knaben der Meister.
Er kann im Gedichte nicht leben und bleiben,
Er lebt und bleibt in der Welt.
HÖLDERLIN, F. „Buonaparte“. In: Sämtliche Werke und Briefe.Vol.1. München: Carl Hanser Verlag, 1970, p.217.
Labels:
Friedrich Hölderlin,
Napoleão Bonaparte,
Poema,
Tradução
Assinar:
Postagens (Atom)